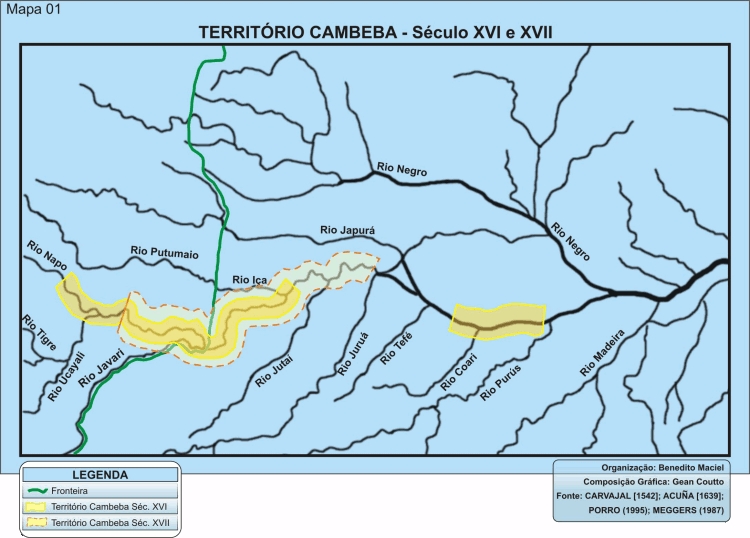O professor André Bueno em seu blog Orientalismo nos deixou um post muito interessante.
Chama-se "O Tempo das Dinastias".
Com base nas afirmações do filósofo Confúcio e do historiador Sima Qian ele aborda um aspecto interessante da cultura chinesa: a fusão entre cultura e meio ambiente. A idéia de harmonia é central na filosofia chinesa, assim como a da disciplina, e a harmonia entre homem e meio ambiente, história e natureza, era difundida e debatida pelos pensadores da época.
Uma coisa que sempre achei muito interessante é a noção que permeia a cultura chinesa de cuidado. Segundo André Bueno, quando se fala em cuidado deve se entender não só seu significado usual, mas também algo fabricado pelo homem, a cultura. A cultura é feita de cuidados, cuidado com os outros, cuidado com a natureza, cuidado com os Céus. O cuidado é próprio do homem, pois é através dele que se cria uma sociedade harmoniosa. Sendo assim, a educação é objeto privilegiado do cuidado do homem; educar para formar, educar para se divertir, educar para criar seres conscientes e não bárbaros que ataquem a harmonia das coisas.
Esses dois pontos (meio ambiente e educação) me parecem mais do que úteis para nós. Mais uma prova de que os povos orientais tem muito a nos ensinar, embora pensemos o contrário.
sábado, 9 de abril de 2011
Fronteiras
Pedro Teixeira foi encarregado pelo governador do Maranhão de conquistar as terras acima de Feliz Lusitânia em 1637. Sua viagem seria justificada como uma expedição contra os invasores estrangeiros, mas o interesse real era se apossar das terras não demarcadas pelos espanhóis. Saindo do Forte do Presépio, o capitão português atravessou todo o rio Amazonas, no sentido contrário, chegando por fim em Quito seis meses depois, onde as autoridades espanholas, desconfiadas, abriram uma comissão para saber suas reais intenções. Mas El-Rei não viu nenhuma malícia em seu ato. Mesmo assim, dois cronistas foram designados para acompanhar (espionar) Pedro Teixeira em sua viagem de volta á São Luis: o jesuíta e reitor do seminário local Cristóbal de Acuña e o frade André de Hertiade.
Quando a União Ibérica termina, os portugueses reclamam a terra conquistada por Teixeira como sua. Os espanhóis relembram o Tratado de Tordesilhas. O fato é que nem um nem outro haviam ocupado realmente essas terras, a conquista era apenas simbólica, ela continuava nas mãos dos povos locais, embora Teixeira tenha livrado ela dos invasores destruindo muitos entrepostos ingleses e holandeses. A contenda irá durar até 1715 com a criação do Tratado de Madrid, onde as duas partes chegam a um acordo.
Onde entram os franciscanos nessa espécie de guerra fria pelo controle da Amazônia? Tanto os franciscanos, como os mercedários, carmelitas e jesuítas faziam parte do projeto colonizador, seja espanhol ou português. Mesmo contestando algumas vezes os colonos, seus objetivos eram também colonizar, mas o imaginário (na expressão de Serge Gruzinski). As ordens religiosas na Amazônia representavam instituições de fronteira também, pois elas buscavam conhecer esse novo espaço e essa nova cultura e com isso impor os signos de sua civilização.
Peguemos o caso da missão coordenada e relatada pelo frei Laureano de La Cruz: ela tinha como objetivo catequizar os Omágua. Por que logo os Omáqua? Dentre todas as nações indígenas, eles se destacavam, segundo o próprio Laureano, pela sua numerosidade e pelos seus hábitos "mais civilizados". Os Omáqua tinham uma das maiores "províncias" do Alto Amazonas, sendo considerados um dos cacicados complexos (com um rígida hierarquia e controle sobre nações menores locais) mais imponentes da região.
 |
| A Conquista da Amazônia, Antônio Parreiras, 1907. |
O historiador Auxiliomar Ugarte no seu texto Os Filhos de São Francisco no País das Amazonas: Catequese e Colonização na Amazônia do Século XVII trabalha com o conceito de fronteira. Fronteira é um conceito muito caro aos norte-americanos, foi muito bem trabalhado pelo historiador Frederick Jackson Turner (falaremos dele outro dia).
Oficialmente, fronteira é o limite entre dois territórios, mas há uma segunda noção, construída nas Ciências Sociais, que coloca a fronteira como um limite não só físico, mas também mental. A Amazônia, por exemplo, era uma imensa fronteira para os colonizadores espanhóis que saiam de Quito. Quito era o limite entre dois mundos: o conhecido e o desconhecido. A fronteira, portanto, vai se expandindo a medida que o colonizador vai se familiarizando com o local e com os povos que o habitavam.
Ugarte usará essa noção, mas principalmente o aspecto mental. Seu objetivo é entender como essa fronteira se fazia presente no confronto entre colonizador e o nativo, através do relato de uma missão franciscana no Alto Amazonas no século XVII.
Antes disso, o autor busca contextualizar a colonização da região. Os primeiros desbravadores, dentre eles Francisco de Orellana e Lope de Aguirre, eram espanhóis que saíam do Peru á procura dos reinos de Eldorado ou do País da Canela. Pelo Tratado de Tordesilhas, a maior parte da Amazônia era da Coroa Espanhola. Como, então, a maior parte da Amazônia passou a pertencer aos portugueses em questão de dois séculos depois de seu descobrimento?
Os portugueses só entram na Amazônia depois que expulsam os franceses localizados no Maranhão, acabando assim com a França Equinocial em 1615. No mesmo ano, Francisco Caldeira Castelo Branco é encarregado de explorar as terras acima do Maranhão, expulsando eventuais invasores. Durante essa expedição ele funda, num ponto estratégico, um forte - o Forte do Presépio, onde se erguerá ao seu redor o povoado de Nossa Senhora do Belém, futura capital do Estado do Pará - e nomeia esta nova terra como Feliz Lusitânia.
 |
| Fundação de Belém do Pará, Theodoro Braga, 1908. |
Nas décadas de 1620 e 1630 várias expedições são feitas para expulsar invasores da Amazônia pelos portugueses. Quando Feliz Lusitânia é fundada já estamos num momento curioso na história de Portugal e Espanha: ambos os países haviam se fundido, com a falta de herdeiros ao trono causada pela morte prematura de D. Sebastião e de seu tio, sob o nome de Filipe III, formando assim a União Ibérica (1580-1640). Os portugueses do Maranhão passam a ser súditos também de Filipe III, por isso sua entrada nos territórios espanhóis (segundo Tordesilhas) é permitida. Ugarte destaca o descontentamento dos portugueses e luso-brasileiros em se tornarem súditos da Espanha, uma espécie de sentimento nativista existia entre eles, e como eles se aproveitaram dessa oportunidade de ouro de entrar nos domínios espanhóis. A expedição de Castelo Branco é um exemplo disso. Seu objetivo era explorar os territórios ao norte e expulsar os invasores (ingleses, franceses e holandeses tinham penetrado na Amazônia de formas diferentes e criado entrepostos comerciais com os índios). Mais emblemática será a expedição de Pedro Teixeira.
 |
| Homenagem á Pedro Teixeira na ilha de Cametá, Pará. |
Quando a União Ibérica termina, os portugueses reclamam a terra conquistada por Teixeira como sua. Os espanhóis relembram o Tratado de Tordesilhas. O fato é que nem um nem outro haviam ocupado realmente essas terras, a conquista era apenas simbólica, ela continuava nas mãos dos povos locais, embora Teixeira tenha livrado ela dos invasores destruindo muitos entrepostos ingleses e holandeses. A contenda irá durar até 1715 com a criação do Tratado de Madrid, onde as duas partes chegam a um acordo.
Onde entram os franciscanos nessa espécie de guerra fria pelo controle da Amazônia? Tanto os franciscanos, como os mercedários, carmelitas e jesuítas faziam parte do projeto colonizador, seja espanhol ou português. Mesmo contestando algumas vezes os colonos, seus objetivos eram também colonizar, mas o imaginário (na expressão de Serge Gruzinski). As ordens religiosas na Amazônia representavam instituições de fronteira também, pois elas buscavam conhecer esse novo espaço e essa nova cultura e com isso impor os signos de sua civilização.
Peguemos o caso da missão coordenada e relatada pelo frei Laureano de La Cruz: ela tinha como objetivo catequizar os Omágua. Por que logo os Omáqua? Dentre todas as nações indígenas, eles se destacavam, segundo o próprio Laureano, pela sua numerosidade e pelos seus hábitos "mais civilizados". Os Omáqua tinham uma das maiores "províncias" do Alto Amazonas, sendo considerados um dos cacicados complexos (com um rígida hierarquia e controle sobre nações menores locais) mais imponentes da região.
 |
| Omágua em ilustração do livro Viagens Filosóficas ao Rio Negro e Amazonas de Alexandre R. Ferreira. |
A missão demorou a partir, pois dependia da doação dos particulares para obter recursos. Os colonos espanhóis estavam mais interessados em achar prata, segundo o frei, mas finalmente financiaram sua missão em 1647. Os franciscandos guiados por De La Cruz se estabeleceram na ilha de Piramota, rebatizada por eles de São Pedro de Alcântara (chegaram nela no dia desse santo). A maioria das aldeias Omágua se localizavam nas ilhas fluviais descendo o rio, mas Piramota era sua base para a evangelização.
No dia seguinte a chegada, os tradutores fugiram deixando os frades em maus lençóis. A falha de comunicação perduraria até o fim da missão. Logo, eles também descobriram o incomôdo da vida amazônica: desde os perigos mortais representados pelos animais até as epidemias. A maior reclamação era sobre os mosquitos. Por isso, eles insistiam para que os Omágua se mudassem para a terra firme; não compreendiam que na várzea eles já haviam se adaptado ao regime das águas e á fartura que ela trazia.
Laureano se entusiasma quando homens da ilha de Caraúte o procuram, pedindo que plante uma cruz, como havia feito em Piramota, em sua aldeia. Esse pedido pode ser entendido não como uma vontade de ser catequisado, mas como parte da disputa política interna entre os Omágua: Caraúte não poderia ficar atrás de Piramota, ela precisa de sua cruz também.
O entusiasmo de Laureano acaba com as enchentes de três em três meses, uma frente fria, verdadeira monção, que durou quatro dias e uma epidemia de varíola entre os Omágua. O frei volta á Piramota e descobre que o Provincial da ordem pede que continue seu trabalho, mas Laureano, em suas andaças, sabe que as aldeias não são tão próximas como pensava. Haviam poucos Omágua também. O que diziam os cronistas da década anteriora era mentira. Será?
Laureano não percebe que os Omágua diminuíram, para ele esses povos não tem história, estão sempre no mesmo estágio. O que estava acontecendo naquele momento era o começo do fim dos Omágua e podemos perceber isso com a epidemia de varíola devastadora de que fala o próprio frei.
Enfim, três anos entre os Omágua não foram capaz para que ele compreendesse esse povo. Ainda existia a falha de comunicação, além disso os missionários atacavam seus hábitos festivos, suas bebedeiras, e tentavam convencê-los de deixarem a várzea. Os Omágua já demonstravam sua insatisfação com algumas ameaças de vida. Não adiantava mais insistir, Laureano reconhece o fracasso e sai de Piramota em 1650.
Ugarte toma essa missão como um exemplo da relação europeu-indígena; a alteridade não é reconhecida. Esse desencontro foi marca da construção da Amazônia moderna e ainda é um traço presente na nossa cultura. Se a fronteira foi diluída, ainda preservamos uma fronteira maior ainda com relação aos povos indígenas, não conseguimos aceitar sua cultura, eles ainda permanecem (por falta de interesse) um mundo desconhecido para nós.
sexta-feira, 8 de abril de 2011
A Selva
Recentemente pude assistir ao filme do diretor português Leonel Vieira, A Selva (2001).
O filme se baseia no livro de mesmo nome escrito pelo também português Ferreira de Castro. Diferente do protagonista, Ferreira de Castro veio ainda criança para a Amazônia. A vida se mescla com a ficção sobre os seringais: Castro foi sim seringueiro e também conseguiu fugir da selva graças á sua educação, ascendendo á cargos de renome em Manaus.
A história basicamente trata de um exilado português de nome Alberto (Diego Morgado) que é "vendido" pelo seu tio á um capataz (Karra Elejade) de um rico seringalista (Cláudio Marzo) e levado ao seu novo trabalho: colher o látex que escorre nos troncos dessas árvores no Seringal Paraíso. Lá ele conhece a dura vida do seringueiro através da experiência na coleta da borracha e no convívio com Firmino (Chico Díaz), seu novo parceiro de trabalho.
Os perigos são imensos: doenças tropicais, onças, sucuris, a fúria dos capatazes e os índios. Além disso, os seringueiros tudo devem ao coronel de barranco, Juca Tristão, uma vez que compram em sua loja o essencial para sobreviver e com isso só aumentando a sua dívida e seus anos de trabalho no seringal.
Alberto, por saber escrever e contabilizar, é empregado como ajudante do contador do seringalista (Gracindo Júnior). No entanto, ele se apaixona pela mulher de seu patrão, dona Yáyá (Maitê Proença). E daí em diante não conto mais nada para não estragar a surpresa.
O fato é que o filme coloca Alberto como protagonista, enquanto no livro vários são os personagens principais, ou melhor, apenas a selva é a personagem principal, pois é ela que atua e testemunha todas essas histórias paralelas.
O filme é recente, bem produzido, e pode ser um material extremamente útil para se entender o boom da borracha na Amazônia e a vida nos seringais. Aliás, falarei exatamente nessa linha no próximo post.
O filme se baseia no livro de mesmo nome escrito pelo também português Ferreira de Castro. Diferente do protagonista, Ferreira de Castro veio ainda criança para a Amazônia. A vida se mescla com a ficção sobre os seringais: Castro foi sim seringueiro e também conseguiu fugir da selva graças á sua educação, ascendendo á cargos de renome em Manaus.
A história basicamente trata de um exilado português de nome Alberto (Diego Morgado) que é "vendido" pelo seu tio á um capataz (Karra Elejade) de um rico seringalista (Cláudio Marzo) e levado ao seu novo trabalho: colher o látex que escorre nos troncos dessas árvores no Seringal Paraíso. Lá ele conhece a dura vida do seringueiro através da experiência na coleta da borracha e no convívio com Firmino (Chico Díaz), seu novo parceiro de trabalho.
Os perigos são imensos: doenças tropicais, onças, sucuris, a fúria dos capatazes e os índios. Além disso, os seringueiros tudo devem ao coronel de barranco, Juca Tristão, uma vez que compram em sua loja o essencial para sobreviver e com isso só aumentando a sua dívida e seus anos de trabalho no seringal.
Alberto, por saber escrever e contabilizar, é empregado como ajudante do contador do seringalista (Gracindo Júnior). No entanto, ele se apaixona pela mulher de seu patrão, dona Yáyá (Maitê Proença). E daí em diante não conto mais nada para não estragar a surpresa.
O fato é que o filme coloca Alberto como protagonista, enquanto no livro vários são os personagens principais, ou melhor, apenas a selva é a personagem principal, pois é ela que atua e testemunha todas essas histórias paralelas.
O filme é recente, bem produzido, e pode ser um material extremamente útil para se entender o boom da borracha na Amazônia e a vida nos seringais. Aliás, falarei exatamente nessa linha no próximo post.
A tragédia
Não sei muito bem o que dizer sobre o que aconteceu em Realengo ontem de manhã. Já sabemos sobre os mortos e um pouco sobre as motivações do assassino, mas mesmo assim não sei o que dizer sobre isso. Melhor, não sei o que podemos entender nesse caso. Não porque o caso não tenha nada de racional, mas porque ainda estou abalado com isso, acredito que todos nós estejamos.
A minha primeira impressão foi de que se tratava de mais um caso de inocentes feridos na luta contra o tráfico, mas depois as notícias foram sendo mais claras e pude perceber que se tratava de uma dessas explosões de raiva contra inocentes, no caso crianças.
Nos acostumamos a ouvir notícias sobre tragédias do tipo na Finlândia ou nos EUA, geralmente associadas ao buylling, a perseguição e a humilhação de certos alunos. Mas o caso foi aqui. Isso chocou a todos, ninguém esperava por isso. E agora já ficamos paranóicos: e se isso virar costume aqui, como nos EUA?
Deus queira que não.
A minha primeira impressão foi de que se tratava de mais um caso de inocentes feridos na luta contra o tráfico, mas depois as notícias foram sendo mais claras e pude perceber que se tratava de uma dessas explosões de raiva contra inocentes, no caso crianças.
Nos acostumamos a ouvir notícias sobre tragédias do tipo na Finlândia ou nos EUA, geralmente associadas ao buylling, a perseguição e a humilhação de certos alunos. Mas o caso foi aqui. Isso chocou a todos, ninguém esperava por isso. E agora já ficamos paranóicos: e se isso virar costume aqui, como nos EUA?
Deus queira que não.
quarta-feira, 6 de abril de 2011
A Música na América Espanhola Colonial
Essa é uma pequena resenha que fiz sobre um artigo sobre música na América Latina colonial:
STEVENSON, Robert. A Música na América Espanhola Colonial. In: BETHELL, Leslie (org.) História da América Latina. vol. II. São Paulo/ Brasília, DF: Editora da universidade de São Paulo/ Fundação Alexandre Gusmão, 2004.
No texto em questão o autor, musicologista e professor de música na Universidade da Califórnia, abordará um tema pouco conhecido: a música produzida na América Latina, com exceção do Brasil, durante o período colonial. Tentaremos analisar aqui as suas considerações, deixando de lado um pouco seus termos técnicos musicais.
Stevenson, logo de início, nos adianta que a música latino-americana colonial era composta pela música barroca européia, a nativa (dos povos pré-colombianos), a africana e a junção destas três. Já na década de 1550 podemos encontrar essa diversidade musical na Cidade do México com canções de cunho asteca, mas voltadas para a evangelização dos nativos. O autor fala de muitas publicações de músicas sacra com fundo barroco e asteca no México, a maioria patrocinada por missionários. A difusão era tanta que a própria Igreja, no Primeiro Concílio da Igreja Mexicana, baixou um decreto para controlar a sua produção.
Essa miscigenação musical tornou-se costumeira, assim como a figura do maestro de capilla, o religioso encarregado do acompanhamento musical da paróquia, seja através das missas, das festas religiosas ou dos sermões. Os maiores compositores desse período foram Hernando Franco e Gutierre Fernandez Hidalgo, todos vindos da Península Ibérica. Mas havia também compositores mestiços como Gonzalo García Zorro e Diego Lobato de Sosa, sendo o primeiro da Colômbia e o segundo do Peru. Outros, inclusive, não tiveram sucesso em sua carreira, apesar de serem muito talentosos, pela sua condição “racial”: Stevenson nos fala do caso de Juan Matias que por ser índio não conseguiu obter tanto sucesso como seus companheiros mestiços.
No final da década de 1590, há reclamações na Cidade do México da “indecente” música dos negros. Apesar disso, Stevenson nos mostra que muitos padres protegiam os coros de negros. Há casos ainda de maestros, na América do Sul, de associarem em suas composições elementos da música negra, podendo ser encontradas estas composições nas bibliotecas dos seminários tanto do Peru como da Colômbia.
Enquanto na Cidade do México o cargo de maestro de capilla torna-se tradicional e há até casos de salários exorbitantes, com o novo século La Plata, na América do Sul, torna-se, graças ao maestro Juan de Araújo, um grande centro musical. Potosí também e graças ao maestro Antonio Duran de La Mota, que era por sua vez ibérico. Nesse período, o século XVII e o século XVIII, começa a prevalecer no cenário musical compositores vindos de fora da América. A Catedral de Lima, por exemplo, tinha chamado um cantor italiano. Aliás, era costume na Espanha “importar” cantores de outros países.
No México, os músicos locais continuaram a ser incentivados. Manuel de Zumaya, considerado um dos maiores compositores coloniais, por exemplo, era mexicano e mestiço. Mas assim que ele saiu a Catedral da Cidade do México contratou, por quase todo o século XVIII, muitos músicos internacionais. Na mesma época, na Venezuela, podemos ver um grupo de mulatos que se reuniram ao redor de um padre oratoriano produzir inúmeras obras, contudo, com poucos elementos da cultura africana agora. Nas Antilhas, destaca-se a presença do compositor Joseph Boulogne que foi tão valorizado na Europa que emigrou para a França em 1752.
O autor chama a atenção para o repertório colonial venezuelano, pois durante boa parte de sua existência era valorizado e até se comprometeu com a causa nacional. Muitas canções foram usadas pelos seguidores de Simon Bolívar e continuam sendo cantadas até hoje. Retirando o caso da Venezuela, é curioso percebermos como durante um período em que estava se lutando pela independência política e a construção de uma cultura nacional os músicos e compositores locais foram tão pouco valorizados.
O texto é muito denso, por estar cheio de informações e por utilizar muitos termos e expressões próprios da música, no entanto, ele é muito proveitoso por nos mostrar como a musical colonial na América Espanhola era, de início, cheia de uma diversidade cultural, que refletia o processo de colonização, e um vínculo muito grande com a religiosidade. Interessante também é a tese do autor de que com a aproximação das independências latino-americanas essa diversidade vai perdendo espaço para a música européia, com a difusão de músicos internacionais na região.
 |
| LP do maestro argentino Ariel Ramírez sobre a Misa Criolla, que reatualiza a música barroca e andina. |
STEVENSON, Robert. A Música na América Espanhola Colonial. In: BETHELL, Leslie (org.) História da América Latina. vol. II. São Paulo/ Brasília, DF: Editora da universidade de São Paulo/ Fundação Alexandre Gusmão, 2004.
No texto em questão o autor, musicologista e professor de música na Universidade da Califórnia, abordará um tema pouco conhecido: a música produzida na América Latina, com exceção do Brasil, durante o período colonial. Tentaremos analisar aqui as suas considerações, deixando de lado um pouco seus termos técnicos musicais.
Stevenson, logo de início, nos adianta que a música latino-americana colonial era composta pela música barroca européia, a nativa (dos povos pré-colombianos), a africana e a junção destas três. Já na década de 1550 podemos encontrar essa diversidade musical na Cidade do México com canções de cunho asteca, mas voltadas para a evangelização dos nativos. O autor fala de muitas publicações de músicas sacra com fundo barroco e asteca no México, a maioria patrocinada por missionários. A difusão era tanta que a própria Igreja, no Primeiro Concílio da Igreja Mexicana, baixou um decreto para controlar a sua produção.
Essa miscigenação musical tornou-se costumeira, assim como a figura do maestro de capilla, o religioso encarregado do acompanhamento musical da paróquia, seja através das missas, das festas religiosas ou dos sermões. Os maiores compositores desse período foram Hernando Franco e Gutierre Fernandez Hidalgo, todos vindos da Península Ibérica. Mas havia também compositores mestiços como Gonzalo García Zorro e Diego Lobato de Sosa, sendo o primeiro da Colômbia e o segundo do Peru. Outros, inclusive, não tiveram sucesso em sua carreira, apesar de serem muito talentosos, pela sua condição “racial”: Stevenson nos fala do caso de Juan Matias que por ser índio não conseguiu obter tanto sucesso como seus companheiros mestiços.
No final da década de 1590, há reclamações na Cidade do México da “indecente” música dos negros. Apesar disso, Stevenson nos mostra que muitos padres protegiam os coros de negros. Há casos ainda de maestros, na América do Sul, de associarem em suas composições elementos da música negra, podendo ser encontradas estas composições nas bibliotecas dos seminários tanto do Peru como da Colômbia.
Enquanto na Cidade do México o cargo de maestro de capilla torna-se tradicional e há até casos de salários exorbitantes, com o novo século La Plata, na América do Sul, torna-se, graças ao maestro Juan de Araújo, um grande centro musical. Potosí também e graças ao maestro Antonio Duran de La Mota, que era por sua vez ibérico. Nesse período, o século XVII e o século XVIII, começa a prevalecer no cenário musical compositores vindos de fora da América. A Catedral de Lima, por exemplo, tinha chamado um cantor italiano. Aliás, era costume na Espanha “importar” cantores de outros países.
No México, os músicos locais continuaram a ser incentivados. Manuel de Zumaya, considerado um dos maiores compositores coloniais, por exemplo, era mexicano e mestiço. Mas assim que ele saiu a Catedral da Cidade do México contratou, por quase todo o século XVIII, muitos músicos internacionais. Na mesma época, na Venezuela, podemos ver um grupo de mulatos que se reuniram ao redor de um padre oratoriano produzir inúmeras obras, contudo, com poucos elementos da cultura africana agora. Nas Antilhas, destaca-se a presença do compositor Joseph Boulogne que foi tão valorizado na Europa que emigrou para a França em 1752.
O autor chama a atenção para o repertório colonial venezuelano, pois durante boa parte de sua existência era valorizado e até se comprometeu com a causa nacional. Muitas canções foram usadas pelos seguidores de Simon Bolívar e continuam sendo cantadas até hoje. Retirando o caso da Venezuela, é curioso percebermos como durante um período em que estava se lutando pela independência política e a construção de uma cultura nacional os músicos e compositores locais foram tão pouco valorizados.
O texto é muito denso, por estar cheio de informações e por utilizar muitos termos e expressões próprios da música, no entanto, ele é muito proveitoso por nos mostrar como a musical colonial na América Espanhola era, de início, cheia de uma diversidade cultural, que refletia o processo de colonização, e um vínculo muito grande com a religiosidade. Interessante também é a tese do autor de que com a aproximação das independências latino-americanas essa diversidade vai perdendo espaço para a música européia, com a difusão de músicos internacionais na região.
Marcadores:
América Latina,
Cultura,
História
A visão "dum simples"
Mais uma crônica de Lima Barreto, essa sobre o episódio das Cartas Falsas (quando opositores da candidatura de Artur Bernardes á presidência, como Nilo Peçanha, forjaram cartas falsas onde o candidato mineiro insultava o Exército e Hermes da Fonseca, ex-presidente e nome ilustre das Forças Armadas), mas que mesmo assim, por criticar os rumos da nossa política, tem um gostinho de atual:
PALAVRAS DUM SIMPLES
Lima Barreto
Nunca me meti em política, isto é, o que se chama política no Brasil. Para mim a política, conforme Bossuet, tem por fim tornar a vida cômoda e os povos felizes. Desde menino, pobre e oprimido, que vejo a "política" do Brasil ser justamente o contrário. Ela tende para tornar a vida incômoda e os povos infelizes. Todas as medidas de que os políticos lançam mão são nesse intuito.
Os prefeitos, por exemplo, desta nossa leal e heróica cidade do Rio de Janeiro, são atualmente piores que os almotacés do conde de Resende. Estes tinham direito a certo número de línguas e "mãos de vaca" das reses abatidas no matadouro; os edis de hoje mandam construir hotéis de oito mil contos, para... hospedar estrangeiros. De forma que, no tempo de el-rei Nosso Senhor, as autoridades municipais se encarregavam do bem-estar do seu povo, como se dizia antigamente; hoje porém, com a nossa democracia, essas mesmas
autoridades se encarregam do bem-estar dos ricaços displicentes que vêm a passeio, cheios de dinheiro, ver bobagens de uma "Exposição" de aterrado.
Por estas e outras eu sou completamente avesso a negócios de política, porque não acredito nela e muito menos nos políticos.Ultimamente, entre nós houve uma barulheira política que quase sacudiu o pais.
Pus-me de parte e tive razão. Não havia nessa agitação nada de ideal, de superior. Só admito que se morra em matéria de política quando se o faça por uma idéia que interesse um grande grupo humano. No caso não havia isto e eu, aqui e ali, levei-o de troça. E outra atitude ele não merecia. Não sei os pródromos de semelhante barulheira, mas eles devem ser muito baixos e vagabundos.
A verdade, porém, é que o observador imparcial logo concluiu que nenhum dos grupos que se digladiavam falava a verdade. A questão versava sobre uma falsificação de cartas, atribuidas ao Sr. Artur Bernardes, atualmente eleito presidente da República. Tais cartas continham insultos ao Exército e os adversários do Sr. Bernardes excitaram os brios da força armada contra ele, baseados nas referidas missivas.
O intuito dos opositores à candidatura do Sr. Bernardes era mover o Exército contra esta, vetá-la e, caso fosse possível, impedir a posse do mesmo senhor pela força.
Havia nisto um apelo declarado ao que se chama nas repúblicas espanholas "o pronunciamento". Toda a gente sabe que isso tem sido um flagelo, tanto para elas como para nós. O dever nosso é evitá-lo de qualquer forma. Qualquer modalidade de hipocrisia política, de que se revista o provimento deste ou daquele cargo de eleição, é melhor do que o assassinato e a violência.
Penso assim porque estou convencido de que seja Paulo, Sancho ou Martinho que governe, esta vida será sempre uma miséria. Seria capaz de deixar-me matar, para implantar aqui o regímen maximalista; mas a favor de Fagundes ou de Brederodes não dou um pingo do meu sangue.
Tenho para mim que se deve experimentar uma "tábua rasa" no regímen social e político que nos governa; mas mudar só de nomes de governantes nada adianta para a felicidade de todos nós.
Demais, há tanta incoerência nesses políticos que nos azucrinam os ouvidos com velhos tropos quando querem satisfazer as suas ambições, que vimos, nos últimos acontecimentos, sujeitos que, não há muitos anos, se insurgiram contra a intromissão, a pressão dos militares nas causas políticas, apelarem para eles, para a sua fôrça e o seu prestígio, a fim de tornar vencedora a própria causa.
Vimos em que deu a coisa. Ao menor sopro de "mazorca" foram todos pelos ares e eles todos debandaram, escafederam-se, deixando o chefe sozinho. Que este fique só, não há mal nenhum. Ele é rico ou enriquecido e pode agüentar o repuxo: mas o povo não deve ir atrás dessa gente.
Os pobres-diabos que se apaixonam por essas especulações de políticos é que levam o "chanfalho" da polícia e sofrem perseguições. São causas que nós, humildes, não devemos esposar, porque elas não representam nenhum ideal elevado, nem nada de sincero e de sério.
Hoje, 22-7-1922.
PALAVRAS DUM SIMPLES
Lima Barreto
Nunca me meti em política, isto é, o que se chama política no Brasil. Para mim a política, conforme Bossuet, tem por fim tornar a vida cômoda e os povos felizes. Desde menino, pobre e oprimido, que vejo a "política" do Brasil ser justamente o contrário. Ela tende para tornar a vida incômoda e os povos infelizes. Todas as medidas de que os políticos lançam mão são nesse intuito.
Os prefeitos, por exemplo, desta nossa leal e heróica cidade do Rio de Janeiro, são atualmente piores que os almotacés do conde de Resende. Estes tinham direito a certo número de línguas e "mãos de vaca" das reses abatidas no matadouro; os edis de hoje mandam construir hotéis de oito mil contos, para... hospedar estrangeiros. De forma que, no tempo de el-rei Nosso Senhor, as autoridades municipais se encarregavam do bem-estar do seu povo, como se dizia antigamente; hoje porém, com a nossa democracia, essas mesmas
autoridades se encarregam do bem-estar dos ricaços displicentes que vêm a passeio, cheios de dinheiro, ver bobagens de uma "Exposição" de aterrado.
Por estas e outras eu sou completamente avesso a negócios de política, porque não acredito nela e muito menos nos políticos.Ultimamente, entre nós houve uma barulheira política que quase sacudiu o pais.
Pus-me de parte e tive razão. Não havia nessa agitação nada de ideal, de superior. Só admito que se morra em matéria de política quando se o faça por uma idéia que interesse um grande grupo humano. No caso não havia isto e eu, aqui e ali, levei-o de troça. E outra atitude ele não merecia. Não sei os pródromos de semelhante barulheira, mas eles devem ser muito baixos e vagabundos.
A verdade, porém, é que o observador imparcial logo concluiu que nenhum dos grupos que se digladiavam falava a verdade. A questão versava sobre uma falsificação de cartas, atribuidas ao Sr. Artur Bernardes, atualmente eleito presidente da República. Tais cartas continham insultos ao Exército e os adversários do Sr. Bernardes excitaram os brios da força armada contra ele, baseados nas referidas missivas.
O intuito dos opositores à candidatura do Sr. Bernardes era mover o Exército contra esta, vetá-la e, caso fosse possível, impedir a posse do mesmo senhor pela força.
 |
| A "carta" de Artur Bernardes. |
Havia nisto um apelo declarado ao que se chama nas repúblicas espanholas "o pronunciamento". Toda a gente sabe que isso tem sido um flagelo, tanto para elas como para nós. O dever nosso é evitá-lo de qualquer forma. Qualquer modalidade de hipocrisia política, de que se revista o provimento deste ou daquele cargo de eleição, é melhor do que o assassinato e a violência.
Penso assim porque estou convencido de que seja Paulo, Sancho ou Martinho que governe, esta vida será sempre uma miséria. Seria capaz de deixar-me matar, para implantar aqui o regímen maximalista; mas a favor de Fagundes ou de Brederodes não dou um pingo do meu sangue.
Tenho para mim que se deve experimentar uma "tábua rasa" no regímen social e político que nos governa; mas mudar só de nomes de governantes nada adianta para a felicidade de todos nós.
Demais, há tanta incoerência nesses políticos que nos azucrinam os ouvidos com velhos tropos quando querem satisfazer as suas ambições, que vimos, nos últimos acontecimentos, sujeitos que, não há muitos anos, se insurgiram contra a intromissão, a pressão dos militares nas causas políticas, apelarem para eles, para a sua fôrça e o seu prestígio, a fim de tornar vencedora a própria causa.
Vimos em que deu a coisa. Ao menor sopro de "mazorca" foram todos pelos ares e eles todos debandaram, escafederam-se, deixando o chefe sozinho. Que este fique só, não há mal nenhum. Ele é rico ou enriquecido e pode agüentar o repuxo: mas o povo não deve ir atrás dessa gente.
Os pobres-diabos que se apaixonam por essas especulações de políticos é que levam o "chanfalho" da polícia e sofrem perseguições. São causas que nós, humildes, não devemos esposar, porque elas não representam nenhum ideal elevado, nem nada de sincero e de sério.
Hoje, 22-7-1922.
terça-feira, 5 de abril de 2011
Desenterrando a História da Amazônia
Quando se pensa na Amazônia antes da colonização o que se tem em mente são aldeias dispersas e com poucos habitantes, vivendo numa espécie de "eterna infância da Humanidade", o comunitivismo primitivo ou a ausência de propriedade privada. Quando se estuda os trabalhos que vêem sido produzidos sobre a história da Amazônia a gente percebe que não era bem assim.
Recentemente entrei em contato com um texto do arqueólogo e professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, Eduardo Goés Neves, no qual somos levados a repensar tudo isso com base nos fragmentos achados nos sítios arqueológicos e na composição da terra local.
Goés Neves coordena desde 1995 o Projeto Amazônia Central que vêem explorando quatro sítios arqueológicos no município amazonense de Iranduba. O local foi escolhido por ser a confluência dos principais rios navegáveis da região (Negro, Solimões e Madeira) e, por isso, poderia ter uma importância fundamental para a ocupação local.
De acordo com Neves, estes sítios demonstram que a região é ocupada há cerca de 8.500 anos, seja na várzea ou na terra firme, possuindo seus habitantes uma economia nada incomum: o equilíbrio entre caça, pesca e coleta. Então há uma pausa - que pode ser tanto fruto da qualidade desse sítio arqueológico como realmente uma pausa na ocupação por motivos ainda desconhecidos - e a ocupação retorna com força total há 2.500 anos. O que marca essa volta é a cerâmica, a famosa cerâmica policrômica da Amazônia que cativou o frei Carvajal. Ao que tudo indica ocorreram mudanças significativas no modo de vida dessas populações nativas: a densidade populacional aumentou e com isso as sociedades tornaram-se mais complexas ou por tornar-se mais complexa que aumentou.
 |
| Exemplo de cerâmica policrômica amazônica. |
Alguns, no entanto, defendem que essa maior quantidade de vestígios pode não indicar um aumento da população, mas uma reocupação dessa área. Esses autores acreditam que a natureza limitou e bastante a ocupação humana local, seja através da baixa fertilidade da terra ou pelo regime de cheias do rio e monções. Neves, contudo, acredita que o homem soube encontrar uma solução para esses obstáculos: o manejo ambiental. Essas sociedades, a partir dessa volta inexplicável, desenvolvem uma economia mais voltada para a agricultura o que os levam a produzir roçados e a trabalhar a terra.
A maior evidência, para o arqueólogo, dessa mudança de uma ocupação baixa para uma ocupação densa pode ser encontrada no chão de seus sítios. O solo amazônico é pobre, o desmatamento prova bem isso. Mas nessa região, existe um solo composto por inúmeros nutrientes e que não os perde fácil (a maior prova é que até hoje ainda é fértil). Esse solo, chamado de terra preta de índio, adquiriu esses nutrientes com as sociedades que o ocuparam. Não foi uma coisa assim consciente; ao que tudo indica, seus vestígios orgânicos (carvão, detritos, corpos) e não-orgânicos (como a cerâmica) fizeram isso.
Na maioria dos sítios, a ocupação diminui antes da chegada do colonizador, alguns séculos antes, novamente sem muitas explicações. Ainda se procura muitas respostas nestes sítios (por que a terra preta é tão estável? por que existem essas pausas na ocupação local?) e, com o avanço da apropriação de terras e a urbanização desenfreada, não sabemos se elas serão realmente respondidas. Poderíamos, ao invés de nos preocuparmos em expandir nossas cidades implacavelmente, aprender muito com estas populações do passado que conseguiram achar uma maneira de ocupar (e muito) um solo aparentemente infértil. Uma solução sustentável para a urbanização e agricultura na Amazônia pode estar na terra preta.
Interessante, na minha opinião, como Neves utiliza como argumento o solo. A terra preta de índio, junto com a cerâmica, seriam as provas para uma mudança radical no modo de vida amazônico nesse período. Essa constatação de tribos mais densas e mais complexas nos ajudam a rever e muito a fala dos cronistas sem pensarmos que as enormes aldeias interligadas por várias redes de comércio até os Andes fosse exagero ou obras da imaginação desses homens. A arqueologia, nesse caso, ajuda a dar um novo olhar á velhas e conhecidas fontes, uma releitura sempre proveitosa.
Marcadores:
Amazonas,
História,
Meio Ambiente
O dilema do mandarim
Um dos últimos livros do escritor português Eça de Queiroz, O Mandarim (1880), tem como enredo uma história de cunho fantástica. Theodoro, um típico funcionário público que mora em uma pensão e tem uma vida pouco emocionante, certa noite, ao ler um livro qualquer encontra esta proposta:
«No fundo da China existe um Mandarim mais rico que todos os reis de que a Fabula ou a Historia contam. D'elle nada conheces, nem o nome, nem o semblante, nem a sêda de que se veste. Para que tu herdes os seus cabedaes infindaveis, basta que toques essa campainha, posta a teu lado, sobre um livro. Elle soltará apenas um suspiro, n'esses confins da Mongolia. Será então um cadaver: e tu verás a teus pés mais ouro do que póde sonhar a ambição d'um avaro. Tu, que me lês e és um homem mortal, tocarás tu a campainha?»
O que esse trecho propôe, basicamente, é que Theodoro sacrifique a vida de um homem, o qual ele não conhece, em nome de um mundo diferente para si. E de forma limpa: basta tocar a campainha. A mesma premissa encontramos no filme A Caixa (2009), do diretor Richard Kelly. Um homem misterioso (Mefistóteles?) surge com a solução para os endividamentos de uma família de classe média norte-americana: uma caixa. Basta apertar seu botão e essa família ganhará mais dinheiro, ás custas de vidas desconhecidas tiradas aleatoriamente pela caixa.
O que esse trecho propôe, basicamente, é que Theodoro sacrifique a vida de um homem, o qual ele não conhece, em nome de um mundo diferente para si. E de forma limpa: basta tocar a campainha. A mesma premissa encontramos no filme A Caixa (2009), do diretor Richard Kelly. Um homem misterioso (Mefistóteles?) surge com a solução para os endividamentos de uma família de classe média norte-americana: uma caixa. Basta apertar seu botão e essa família ganhará mais dinheiro, ás custas de vidas desconhecidas tiradas aleatoriamente pela caixa.
 |
| Sr. Steward (Frank Langella) e Norma (Cameron Diaz), em cena d' A Caixa. |
A ficção, mais uma vez, pega a vida real de jeito: o que querem dizer com essa proposta indecente o escritor portugues e o diretor norte-americano? A vida é feita de escolhas e, quando fazemos as nossas, será que distinguimos o que é fácil do que é correto? Ora, é muito fácil conseguirmos dinheiro e luxo com uma simples campainha ou um botão. Se uma vida que desconheço será perdida é lamentável, mas o fato de mal conhecê-la alivia a dor de tirá-la e com isso a escolha torna-se muito fácil. Mas e essa pessoa que você tirou a vida? E se ela fosse como você? E se você fosse ela?
Esse dilema do mandarim está muito longe de ser algo fora de nosso dia-a-dia. Afinal, quantas vezes no decorrer de nossa vida somos forçados a tomar decisões parecidas e, na maior parte das vezes, prevalece o mais cômodo. O dilema do mandarim, portanto, leva ao extremo esta situação corriqueira para nos fazer refletir.
Existe um campo na filosofia própria para esse tipo de reflexão chamado Ética, que se divide em dois aspectos: um mais geral, dedicado a discutir os conceitos de Bem e Mal, e outro mais próximo das ações cotidianas, que abrange os vários dilemas morais que enfretamos em nossa vida.
É costume nosso criticar a "falta de ética" nos políticos, mas o exame de consciência sobre a nossa ética é quase sempre adiado ou justificado pela necessidade de sobreviver. Quando alguém tem de sobreviver, pouco importa o que acontecerá com o próximo. No entanto, nem tudo é permitido e nem sempre isso é verdade - na maior parte das vezes, se torna uma desculpa, uma desculpa para mascarar o que é conveniente.
Atender ás suas próprias exigências nem sempre significa respeitar a vida das outras pessoas. Pense num homem que estaciona na vaga de um deficiente só porque é mais fácil que procurar um estacionamento. O que acontecerá com esse deficiente não passa na cabeça desse indivíduo. A corrupção e a violência são duas formas, as mais marcantes, de desrepeito ao outro, mas nos esquecemos dessa forma, talvez porque estejamos imersos nela ou porque simplesmente não queremos pensar nisso.
O primeiro passo para superarmos essa situação de desrespeito ao outro, seja ele quem for, é percebemos que nossas escolhas afetam outras pessoas e um meio para se chegar á isso é a interrogação: uma vida alheia vale a pena em nome do meu conforto? Jogar lixo na rua ou nos rios é mais cômodo, mas não vai acarretar problemas para mim ou mesmo para meus filhos? Desviar recursos de uma escola vai me deixar mais rico, mas também írá roubar um destino melhor de muitas crianças, o que pode gerar miséria e criminalidade. Será que um dia as consequências desse meu ato não voltarão para mim ou para as pessoas com quem me importo? O dilema do mandarim está aí, cabe a nós escolhermos. Tocarás tu a campainha?
Atender ás suas próprias exigências nem sempre significa respeitar a vida das outras pessoas. Pense num homem que estaciona na vaga de um deficiente só porque é mais fácil que procurar um estacionamento. O que acontecerá com esse deficiente não passa na cabeça desse indivíduo. A corrupção e a violência são duas formas, as mais marcantes, de desrepeito ao outro, mas nos esquecemos dessa forma, talvez porque estejamos imersos nela ou porque simplesmente não queremos pensar nisso.
O primeiro passo para superarmos essa situação de desrespeito ao outro, seja ele quem for, é percebemos que nossas escolhas afetam outras pessoas e um meio para se chegar á isso é a interrogação: uma vida alheia vale a pena em nome do meu conforto? Jogar lixo na rua ou nos rios é mais cômodo, mas não vai acarretar problemas para mim ou mesmo para meus filhos? Desviar recursos de uma escola vai me deixar mais rico, mas também írá roubar um destino melhor de muitas crianças, o que pode gerar miséria e criminalidade. Será que um dia as consequências desse meu ato não voltarão para mim ou para as pessoas com quem me importo? O dilema do mandarim está aí, cabe a nós escolhermos. Tocarás tu a campainha?
sábado, 2 de abril de 2011
Fé cega, faca amolada
 |
| Terry Jones |
Terry Jones já estava doido para queimar livros á muito tempo. Ano passado anunciou que queimaria vários exemplares do Alcorão em homenagem aos 10 anos do 11 de Setembro de 2001, mas foi tão pressionado que desistiu.
Esse pastor de uma igreja da Flórida fez um julgamento do livro sagrado dos muçulmanos diante de seus fiéis há uma semana, no dia 21, e diante da sentença de culpado por não ser uma religião de paz o queimou. No Paquistão, as autoridade emitiram uma fatwa (ordem sagrada) que pagaria 20.000 dólares por quem matasse ele. Hoje, milhares protestaram numa cidade ao norte do Afeganistão e atacaram uma embaixada da ONU decapitando 7 estrangeiros lá presentes.
 |
| Protestos no Afeganistão. |
A impressão que se tem é de que realmente a irracionalidade venceu e quando falo em irracionalidade não me refiro ás religiões em questão, sejam elas cristãs ou islâmicas, mas uma espécie de rancor presente nessas pessoas que tentam justificar sua estupidez com interpretações sagradas.
Em primeiro lugar, o Islã não é uma religião de violência como quer o pastor Jones. Sim, é verdade que ela ajudou na expansão militar árabe pelo Mediterrâneo, assim como o judaísmo também ajudou a unificar as tribos e conquistar Canãa em guerras longuíssimas com povos locais como os filisteus e samaritanos e assim como o cristianismo também foi usado como pretexto para as Cruzadas durante a Idade Média.
Toda religião tem como característica trazer verdades reveladas, no entanto, estas verdades podem ser manipuladas das mais diferentes formas. A proposta de conversão e evangelização, por exemplo, foi utilizada através dos séculos como mecanismo de imperialismo de diversos povos. Ou seja, estas religiões trazem em si códigos de ética e moral, mas que muitas vezes podem ser apropriados para efeitos menos nobres, cabe a nós termos consciência disso.
Em segundo lugar, no assunto em questão a religião foi apropriada pelo puro e simples rancor. O rancor do pastor contra os atentados de 11 de Setembro e o rancor dos afegãos contra a invasão de seu país e agora pela queima do Alcorão. Sete vidas inocentes morreram simplesmente por não terem nascido nesse país ou por se encontrarem na embaixada da ONU, sendo que elas podiam até ser contra a atitude de Jones. São vidas que foram atacadas no calor da fúria.
E o rancor é assim: não aceita a complexidade das coisas. Toma uma pessoa como exemplo de todo um povo. Ora, um Torquemada não deve eclipsar homens como Francisco de Assis ou mesmo Jesus Cristo. Extremismos sempre existiram e é curioso como muitos atribuíem aos muçulmanos a patente, a responsabilidade por terem os criado. O fundamentalismo religioso no Oriente Médio é recente: tornou-se essa força poderosa principalmente a partir da década de 1970, com o fracasso do pan-arabismo na luta contra o imperialismo estrangeiro. E nós já tivemos nossos dias de fundamentalistas (e ainda temos), principalmente no século XVII, com as guerras religiosas entre protestantes e católicos na Europa.
Ao que tudo indica esses movimentos que procuram transformar as religiões, experiências de compreensão e sensibilidade, em ideologias de rancor continuarão a existir, o que quer dizer que devemos sempre andar com cautela e esclarecimento entre os terrenos do mundo espiritual e temporal.
sexta-feira, 1 de abril de 2011
Revolução ou golpe?
 |
| Os generais Costa e Silva, Lyra Tavares e Ernesto Geisel, tendo á sua frente o marechal Castelo Branco, o primeiro presidente após 1964. |
Interessante que mesmo sendo um acontecimento muito recente, a ditadura militar ainda é um tema pouco discutido e quando o feito é a luz de radicalismos, de ambos os lados. O caso mais emblemático refere-se ao termo usado apra designar o que aconteceu em 1964: golpe ou revolução?
Aos defensores da ação, o nome certo seria o último e, de fato, foi por muito tempo usado ao lado do adjetivo "a redentora". Revolução significa criar uma nova ordem social, assim, sendo a revolução de 1964 teria criado uma nova ordem social, livre do populismo, corrupção e, principalmente, do comunismo, que se dizia ser presente nos anos anteriores. Outro argumento desse lado é de que não foi uma revolução ou um golpe, mas um contragolpe, uma vez que estava claro que o comunismo, seja pelas mãos de Jango Goulart ou de seu cunhado, Leonel Brizola, chegaria ao poder por meios autoritários e não democráticos.
Quanto aos críticos da ação, não há nome melhor para definir o acontecimento do que a palavra golpe. Em 1964, inspirados pelo conservadorismo local e pelo capital estrangeiro, os militares teriam interrompido o processo democrático e as reformas sociais prometidas pelo governo progressista de Jango Goulart.
O fato é que a situação é muito mais complicada do que esses dois pontos de vista pregam: não podemos entender 1964, se não tivermos em mente todo o seu contexto. Desde que Getúlio Vargas deixou o poder, surgiram três forças, que já vinham sendo gestadas durante o Estado Novo, que se tornariam poderosas nos anos sequintes: as Forças Armadas, o trabalhismo, que podia adquirir contornos oficiais através do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) ou menos ortodoxos, e a oposição em torno da União Democrática Nacional (UDN). Além disso, após 1945, o mundo entra na Guerra Fria e no Brasil a paranóia não poderia deixar de ser maior, com a presença de comunistas carismáticos como Luís Carlos Prestes e Marighela.
 |
| Getúlio Vargas |
 |
| Marechal Henrique Lott |
 |
| Juscelino Kubistschek |
 |
| Jânio Quadros renuncia. |
Jânio Quadros estava decidido a fazer uma política independente (seu maior ídolo era Gamal Nasser, presidente do Egito), embora fosse comprometido com uma política moralista. No entanto, suas ações nesse sentido geraram rupturas entre o partido e a insastisfação popular crescia com o surgimento de uma inflação galopante, fruto do Plano de Metas de JK. Pressionado, Jânio decidiu renunciar, num ato que até hoje ninguém sabe se foi exatamente maquiavélico ou imprevisível. Assumiria, portanto, Jango, que estava em viagem diplomática na China.
Logo, manifestações foram feitas impedindo que ele assumisse. Uma junta militar toma o poder. Mas, graças á negociações entre os partidos e os senadores, ela é dissolvida com a promessa de que Jango não teria poderes completos. Assim é instituído no Brasil o parlamentarismo. Tivemos num curto espaço de tempo (1961-1963), uma experiência parlamentarista, onde os primeiro-ministros, geralmente liberais (como Tancredo Neves), definiram os rumos da política, enquanto o presidente tinha apenas poder simbólico.
O PTB e seu aliado, o Partido Social Democrata (PSD) de JK, pediram um plebiscito em 1963, cansados dessa experiência surreal. A população escolheu o presidencialismo e, antes que assumisse, os partidos tomaram cuidado para impedir novo golpe: como a maior ameaça eram as Forças Armadas, os oficiais contrários á Jango foram mandados para cargos de menos importância (esse ficou conhecido como o Dispositivo Militar).
 |
| Jango Goulart sendo empossado presidente, ladeado pelo general Amury Kruel e pelo presidente do Senado Ranieri Mazzili. |
Os ataques de Carlos Lacerda, agora enquanto governador do Estado da Guanabara, e as respostas atravessadas de Leonel Brizola enchiam as páginas dos jornais. Além disso, havia a carestia de alimentos, a inflação não havia sido superada. Por sua maior simpatia com a esquerda, esperava-se que Jango fizesse as tão esperadas reformas de base, principalmente a reforma agrária. As centrais sindicais faziam greves constantes contra a classe patronal. Como podemos ver, o clima estava muito tenso. A última gota veio na noite de 30 de março de 1964, quando Jango fez um comício na Central do Brasil (RJ), prometendo reformas em breve para as centrais sindicais e para o povo. O presidente foi ovacionado. Para um grupo de militares e membros da UDN, essa era a maior prova de que Jango pretendia dar um "golpe branco", se perpetuar no poder com o apoio do povo.
 |
| Jango Goulart no Comício da Central do Brasil, 1964. |
Na noite de 31 de março de 1964, tropas sairam de Minas Gerais em direção á capital federal destinadas á depor o presidente. Essas tropas encontraram certa resistência, mas somente quando na capital. Decidido a não começar um banho de sangue, Jango renunciou e saiu do país. Em primeiro de abril, o governo revolucionário era ovacionado por muitos membros da UDN e das Forças Armadas.
 |
| Charge de Millôr Fernandes, revista Pif-Paf. |
O que procurei mostrar aqui nesse post é que o golpe de 1964 foi o ponto alto de um contexto altamente tenso: primeiro, pela radicalização da política (UDN, PTB, PSD e PCB batalhavam entre si), pela crise econômica (afinal, o Brasil ainda não conseguia ter uma economia vigorosa, como pretendia o nacional-desenvolvimentismo, e a internacionalização da economia operada por JK ajudou a crescer o dragão da inflação) e pela pressão externa (o temor dos EUA de verem nascer uma nova Cuba na América Latina).
Os 18 anos de experiência democrática (1946-1964) não bastaram para consolidar uma cultura realmente democrática no país, seja no que tange á execução de medidas democráticas ou até mesmo ao estímulo do debate.
Sim, me referi ao acontecimento como golpe. Acredito que ainda que quem o tenha feito acreditasse que seria um contragolpe, ele realmente fora um golpe, mas não um golpe propriamente militar: na execução ele foi um ato militar, mas não teria se sustentado se não tivesse o apoio da sociedade civil, seja em forma de apoio explícito, como ocorria com os membros da UDN, ou simples indiferença, como acredito que aconteceu na maioria da população.
De qualquer forma, ainda não esgotamos as reflexões sobre a noite de 31 de março de 1964 e não somos os primeiros a tentar entendê-la: de certa forma, a história no Brasil se consolida tentando compreender como 1964 foi possível, seja direta ou indiretamente - muitos autores procuravam e procuram na história recente, como na República Velha, ou mesmo na mais antiga, chegando na Colônia, as razões que levassem ao Brasil ser um país autoritário.
As visões sobre o fato também não mudaram muito e podemos enxergar isso na forma como foi recebida a notícia dos 47 anos do golpe ontem: enquanto o grupo Terrorismo Nunca Mais o lembrou com uma missa solene, certos manifestantes e professores protestaram em seus blogs contra mais um fato crucial (e maligno) de nossa história perdido no esquecimento. Seja como for, 31 de março de 1964 ainda vai dar muito o que falar.
Assinar:
Postagens (Atom)